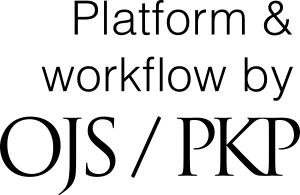Call For Papers - LITERATURA, FEMINICÍDIO E GENOCÍDIO
Os neologismos “genocídio” e “feminicídio” – criados, respectivamente, pelo jurista polonês Raphael Lemkin em 1944 e pela socióloga sul-africana Diana Russell em 1976 – disseminaram-se para diversos horizontes discursivos, entre eles a literatura, a história, a antropologia. No entanto, a teoria e a crítica literária ainda não criaram protocolos de leitura à altura do problema que significa “representar” a morte, leia-se, assassinato de corpos descartáveis.
Representar genocídios e feminicídios coloca em debate a máxima aristotélica de que “experimentamos prazer com a visão de imagens sumamente fieis de coisas que contemplaríamos penosamente, do que constituem exemplos as formas dos animais selvagens mais repugnantes e dos cadáveres” (tradução de Edson Bini); no mesmo sentido, tem implicado a crítica da romantização do assassinato de corpos feminizados e corpos etnizados como sacrifício em nome da modernidade. Romantizar envolve naturalizar, mistificar e mitologizar, as vítimas, os perpetradores, bem como os processos sócio-econômicos, culturais e históricos de que participaram (cf. Ana Maria Gonçalves, Art Spiegelman, Françoise Vergès, Rita Laura Segato e W. G. Sebald; ver também Regina Zilberman sobre Hans Robert Jauss).
A escritora norte-americana Toni Morrison analisa em A origem dos outros os modos de romantização das vítimas ou dos assassinos apontando neles as faces narrativas da força bruta colonial; além da romantização, a naturalização das violências contra formas de vida específicas, que aparece em narrativas não raro por meio de dicotomias, é outro ponto que os conceitos de feminicídio e genocídio ajudam a deslindar – são os casos das ideias de crime passional para narrar feminicídios; e das fugas e rebeliões espetaculares para narrar a experiência dos campos de concentração (cf. Rita Laura Segato e Primo Levi). Trata-se então de construir modos de ler e escrever que nem romantizem nem naturalizem o assassinato físico e simbólico de partes específicas da humanidade (cf. Elizabeth Grosz e Françoise Vergès; ver também a crítica à sociedade da mercadoria feita por Davi Kopenawa).
Antônio Paula Graça, em estudo sobre os protagonistas indígenas em romances brasileiros, faz um inventário de procedimentos estilísticos comuns nesse corpus: animalização do outro; conversão glamourizada do indígena aos valores católicos; diluição da individualidade em descrições genéricas; indiferenciação entre pessoa e habitat; estetização e embelezamento do horror (especialmente da morte violenta do outro); repulsa da cultura do outro; e censura a tratar o outro com complexidade humana assim como censura de trazer à linguagem a ideia de que o tema da narrativa do mal-encontro é o extermínio.
Contrapondo-se aos estereótipos narrativos e estilísticos percebidos por Morrison e por Graça, obras como as de Eliane Potiguara nomeiam explicitamente o massacre perpetrado pelos agentes da assim chamada civilização, dando ênfase ao modo como mulheres indígenas enfrentam esta situação. Formulações teóricas a respeito dos traços discursivos dessas contranarrativas indicam que elas procuram dar a ver o aumento das desigualdades, a concentração de riquezas, a destruição acelerada de condições de vida e as políticas de assassinato e de devastação como o contexto global de naturalização da violência contra as mulheres e do assassinato de povos; e seria preciso tornar mais nítidos os vínculos entre a crítica ao Estado e a crítica ao mercado capitalista para bem narrar genocídios e feminicídios (cf. Denise Ferreira da Silva, Françoise Vergèr e Pierre Levi). São notáveis neste sentido os estudos de Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez e Denise Ferreira da Silva, para exemplos de obras produzidas em diferentes momentos da reflexão sobre genocídios e feminicídios, isto é, os últimos anos da ditadura e os anos da assim chamada redemocratização.
Se definirmos trauma social – de acordo com as reflexões de Shoshana Felman em O inconsciente jurídico– como aquilo que é proibido ou vedado à visão, aquilo que, do ponto de vista dos poderes perpetradores dos crimes contra a humanidade, não deveria ser possível narrar, e, do ponto de vista das vítimas, não deveria acontecer, podemos pensar também na maneira como os crimes são, eles mesmos, modos de aparecimento simbólico de contradições não resolvidas, sequer elaboradas, na sociedade, na cultura e, menos ainda, nas instâncias econômicas e políticas do mundo contemporâneo integrado à expansão do capitalismo, o que implica pensá-los não como exceções (crimes cometidos por monstros), mas também como a lógica própria normal da expansão do capitalismo, como Denise Ferreira da Silva demonstra, e assim também Davi Kopenawa.
Isso remete a um dos problemas enfrentados pelas testemunhas da Shoah, entre as quais Charlotte Delbo, Jorge Semprun e Primo Levi: narrar um processo social que visou extinguir a possibilidade de ser relatado. Remete também a numerosas obras literárias contemporâneos, por exemplo, Enterre seus mortos, de Ana Paula Maia, ou, no horizonte latino-americano, Garotas mortas, de Selva Almada, nas quais o aparecimento de um corpo feminizado assassinado é o ponto de partida para que os narradores, as personagens – e algumas vezes quem lê – passem a reconhecer o laço social de violência que articula determinados significantes a determinados afetos ou conteúdos antes invisíveis. Os corpos de mulheres em que se inscrevem atos enunciativos violentos realizados por homens para homens apareceriam como significantes do indizível (como mostram as obras de Françoise Vergès, Rita Laura Segato e Sarah Ahmed). Desta forma, pode-se pensar as complexas relações de relatos com os “desaparecidos” (K. relato de uma busca, de B. Kucinski; O corpo interminável, de Cláudia Lage; Não falei, de Beatriz Bracher; ou, sob outro aspecto, A mulher dos pés descalços, de Scholastique Mukasonga) ou com os corpos expostos, que aparecem como enunciados aparentemente isolados (Garotas mortas, de Selva Almada, e Mulheres empilhadas, de Patrícia Melo).
Romances recentes, como Fé no inferno, de Santiago Nazarian, optam por aproximar dois processos genocidas distantes no tempo – o genocídio contra os armênios, no início do século XX e o genocídio contra os indígenas no Brasil – de modo a criar, pela aproximação, modos de pensar o que não é pensável, ver o que não deve ser visto, considerar o que deve ser desconsiderado. Algo neste sentido também pode ser pensado pelo uso que faz da palavra genocídio a poeta cearense radicada em São Paulo, Dinha, no livro de poemas Zero a zero: quinze poemas contra o genocídio negro. Ainda que se possa afirmar que o léxico utilizado para pensar a respeito do genocídio perpetrado pelos nazistas contra os judeus, os ciganos, os poloneses, os comunistas é usado para pensar outros eventos, tudo indica que o que tem acontecido é o contrário: obras como as de Frantz Fanon e de Aime Cesaire mostram que o pensamento construído nos anos das lutas anti-coloniais, desde o imediato pós-guerra, até meados dos anos 1970, criou as condições que tornaram legíveis obras como as de Primo Levi, que, publicadas logo depois da Segunda Guerra, permaneceram pouco lidas até o início dos anos 1960.
Há portanto construções coletivas tanto de esquecimentos e estereótipos quanto de memórias, narrativas e cuidados em torno dos processos de aniquilação já finalizados ou ainda em desdobramento. As formas coletivas de dizer e narrar exigem não apenas o momento da escrita de obras, mas também a construção de encontros e instituições. Bem-narrar genocídios e feminicídios exige um duradouro trabalho coletivo, de gerações, que, no Brasil contemporâneo, têm como exemplos as narrativas quilombolas, a literatura indígena e a cooperação a esta altura transgeracional para documentar, analisar e narrar a ditadura civil-militar brasileira.
Este dossiê pretende reunir ensaios a respeito de obras ficcionais ou não-ficcionais que lidem com a complexidade de escrever ou ensinar a respeito dos genocídios e feminicídios já ocorridos ou em andamento; pretende também reunir ensaios que, como nos estudos de Silvia Federici e Rita Laura Segato, articulem estes dois processos, que mesclam aspectos sociais, econômicos, históricos e culturais. Receberemos trabalhos que reflitam a respeito de obras ficcionais e não-ficcionais sobre o feminicídio e o genocídio ou sobre a correlação entre ambos, tendo como base uma crítica aos modos de romantização, naturalização, mitologização e mistificação de processos sociais violentos, por um lado, e uma tentativa de construir novos modos de narrar em defesa da vida, caso das narrativas ligadas às demarcações, retomadas e reconhecimentos de terras e comunidades indígenas e quilombolas.
Organizadores:
Tarsilla Couto de Brito (UFG) e Atilio Bergamini (UFC)
Prazo de submissão: 01/08/2023 - 20/11/2023